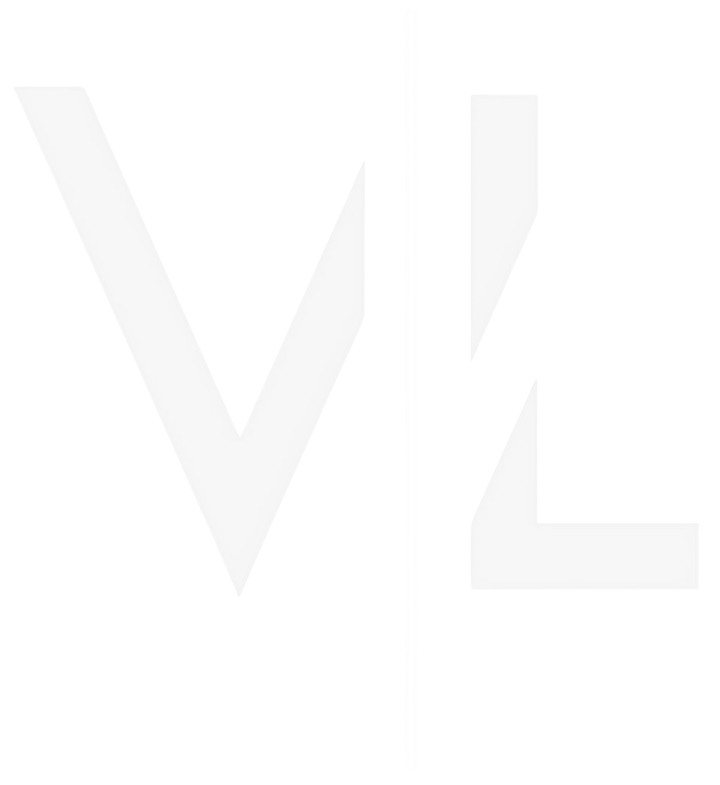O trabalho híbrido, que mescla dias presenciais e remotos, consolidou-se como uma das grandes heranças da pandemia. À primeira vista, parece oferecer o melhor dos dois mundos: flexibilidade para o trabalhador e redução de custos para as empresas. No entanto, na prática, o modelo ainda se encontra em uma situação delicada — entre o avanço nas relações de trabalho e o risco de precarização silenciosa.
Empresas adotaram o híbrido com entusiasmo, acreditando ser uma solução moderna e produtiva. Mas, em muitos casos, o discurso da “flexibilidade” esconde o aumento de exigências: jornadas estendidas, disponibilidade fora do expediente e custos de internet e energia arcados pelo próprio empregado. O ambiente doméstico, que deveria trazer conforto, muitas vezes se transforma em extensão do escritório — sem os mesmos direitos e proteções previstas no trabalho presencial.
Do ponto de vista jurídico, o direito do trabalho já reconhece o teletrabalho, disciplinado pelo artigo 75-A e seguintes da CLT. Contudo, o híbrido ainda carece de regulamentação específica. Isso abre espaço para dúvidas: como controlar a jornada? Quem deve custear os equipamentos? Cada resposta pode gerar um passivo trabalhista se a empresa não adotar políticas claras e transparentes.
Por outro lado, o modelo híbrido também trouxe ganhos concretos. Muitos profissionais relatam melhoria na qualidade de vida, mais tempo com a família e redução do estresse dos deslocamentos diários. Já as empresas perceberam que a produtividade não depende necessariamente da presença física, mas da confiança e da boa gestão.
O desafio, portanto, é encontrar o ponto de equilíbrio: um trabalho híbrido que seja, de fato, flexível — e não apenas conveniente para um dos lados. É papel das empresas estabelecer regras claras, e dos profissionais, compreender seus direitos e deveres nesse novo formato de relação.